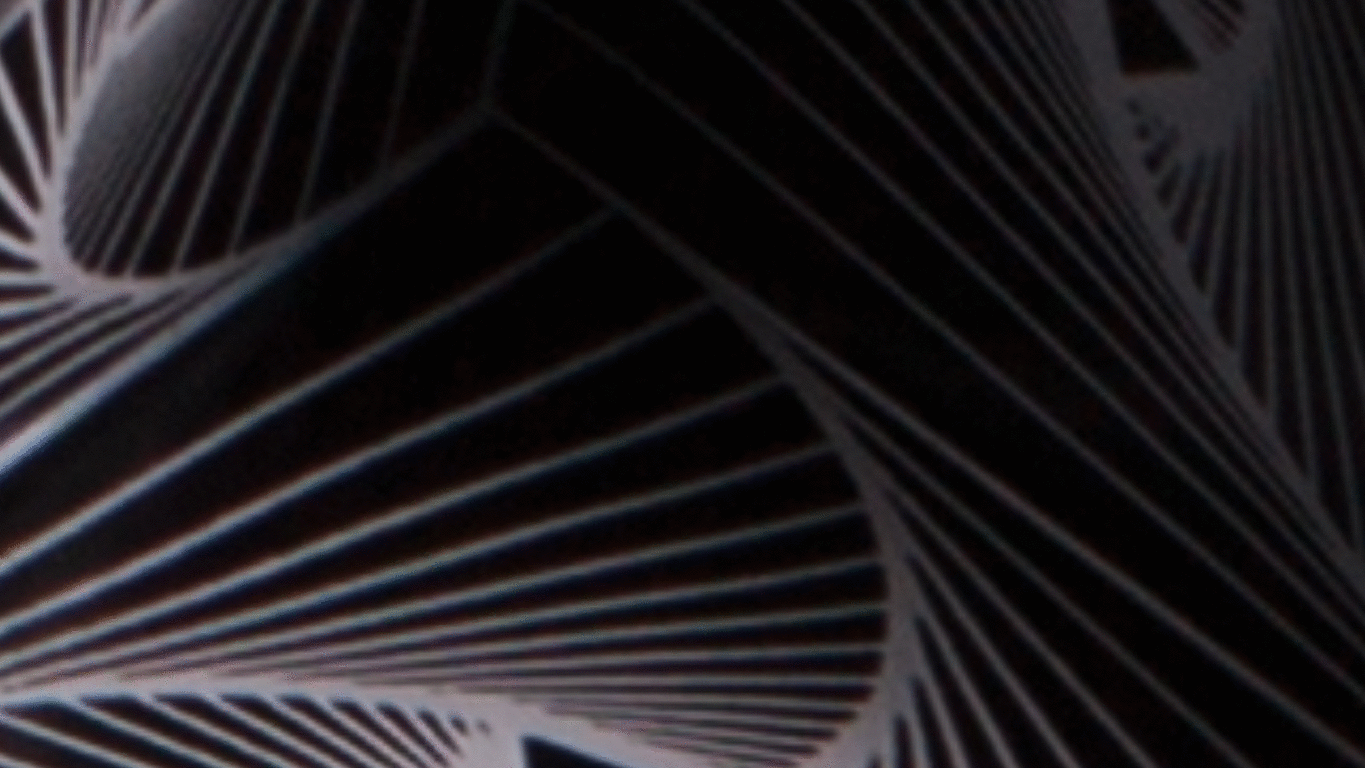Colheita 1943
O jovem Eduardo Batarda, que viveu e desenhou em Londres entre 1971 e 1974, o ilustrador da Arte de Furtar, foi um artista interessante, e um excelente humorista gráfico e verbal. Depois, não deixando nunca de ser um contorcionista semântico, o regresso ao espaço-tempo indígena fez dele um maneirista à procura da 'fine art', atormentado com não problemas das Belas Artes, do qual foi nascendo uma obra decorativa, burilada gongoricamente e cada vez mais desinteressante, ainda que progressivamente apaladada para os gostos institucionais da ignara corte local. Nunca deveria ter sido pintor.
De resto, recordo umas noitadas dicotómicas nos idos anos 80 e 90 do século passado com mais um expatriado cultural iludido por uma pseudo revolução que em breve se revelaria uma farsa democrática. O que aprendeu de bom aprendeu fora do seu país, ou seja, a cepa promissora da sua arte desabrochou em Londres e por lá deveria ter sucessivamente florido e crescido. De resto, os bolseiros da Fundação Calouste Gulbenkian que estagiaram na Swingeing London cometeram todos, exceto Paula Rego, o mesmo pecado: regressar à terrinha. Portugal nunca foi no século 20, como se sabe, um bom terroir para a arte moderna e 'contemporânea'.
Convidei o Eduardo Batarda para uma exposição individual na Casa de Bocage, em 1983. Escrevi um pequeno texto sobre a transição do período londrino para o que viria a ser um mergulho no que então se chamou regresso à pintura! Desde então fui acompanhando de longe a sua obra, com a mesma melancolia que outras promessas fulgurantes (Carneiro, Ângelo, etc.) acabaram por provocar no meu sincero desejo de ver e perceber a arte portuguesa. Salva-se, ainda assim, um amor de juventude: a obra de Álvaro Lapa. Era absolutamente lúcido quando escrevia ou pintava.
 |
| Eduardo Batarda, Misquoteros, 2014/15 |
Excursão teórica
Batarda, o Velho
Os textos nos quadros dos Misquoteros e das séries seguintes não foram escritos com outra intenção do que a de pertencer/aparecer em pinturas. A sua ambição ensaística é nula, e a sua "qualidade" literária inexistente. Como é óbvio, destinam-se a ser lidos, e não pretendo que funcionem "apenas" como elementos compositivos ou como ingredientes formais.
Nas artes visuais há uma infinidade de obras que utilizam o texto sem mais acrescentos, e essa infinidade inclui muitas e muitas pinturas. Nada de especial, portanto.
Para responder mais, tenho que lembrar que basta ver os quadros para verificar que as superfícies, que são o que se costuma chamar "superfícies pictóricas", estão animadas (se assim me posso exprimir) por aquilo que funciona como um sistema que regulariza e normaliza os conjuntos – para além dos letterings e dos textos, ou da numeração das frases: falo de imagens com figura e fundo, garantindo a presença de duas cores ou tonalidades da mesma cor, ou de três ou mesmo quatro, em raros casos.
in “Três perguntas a Eduardo Batarda”, por Isabel Carlos, Contemporânea, 2017.
Góngora
Góngora aparentemente não tinha grande apreço pela tipografia e pelas vantagens do livro impresso. Apesar de ter tido desde muito cedo admiradores da sua obra, apenas em 1623 empreendeu uma tentativa de publicação, a qual, apesar das cartas trocadas com o editor e do aparente empenho do autor, não logrou êxito.
[...]
Apesar de já nas suas obras iniciais encontrarmos o típico conceptismo do barroco, Góngora, cujo talento era o de um esteta com forte tendência para a autocrítica (costumava dizer: el mayor fiscal de mis obras soy yo), não se conformava com os cânones existentes. Assim, decidiu tentar, segundo as suas próprias palavras, hacer algo no para muchos e intensificar ainda mais a retórica e a imitação da poesia latina clássica. Para tal, introduziu numerosos cultismos e una sintaxe baseada no hipérbato e na simetria.
Estava igualmente muito atento à sonoridade do verso, que cuidava como um autêntico músico da palavra. De Góngora pode-se dizer que era um grande pintor dos sons da linguagem com que enchia, com a perfeição de um Epicuro, os seus versos de matizes sensoriais de cor, som e tacto.
Para além desse exacerbado culto estético, num processo a que Dámaso Alonso, um dos seus principais estudiosos, chamou elusões e alusões, convertia cada um dos seus poemas, com particular destaque para os da sua fase mais tardia, num obscuro exercício para mentes despertas e eruditas, como uma espécie de adivinha ou desafio intelectual destinado a causar prazer na sua decifração.
—in Luis de Góngora y Argote (Wikipédia)
 |
| By Art & Language (Michael Baldwin (born 1945) and Mel Ramsden). - Photographed by Smuconlaw on 27 June 2013, 17:42:31., CC BY-SA 4.0 |
Historical Painting, 1973
I always admired novelists and comic-strip artists for their "God-like" power of recreating realities on any level. In the series of Notes (1 to 9) I started scribbling a mixture of figures and writing which gradually became more defined (I did not depart from comic-strips as I did in my works of the '60's). With the introduction of a completely coloured background (in the Column series, World Map, etc.), I have gotten into a sort of historical painting where all kinds of data and ideas — historical, economic, poetic, topical — are presented in a unified style. For the sake of clarity, data and interpretations are both written down and depicted visually. Blue colors denote USA, violet Europe, red to yellow socialist countries, and green to brown the Third World.
Propaganda
Like many people, I began to understand during the late '60's that words like "imperialism", capitalism", "exploitation", "alienation" were not mere ideas or political slogans, but stood for terrifying, absurd and inhumane conditions in the world. Living in LBJ's and Nixon's America during the Vietnam war — culminating in the Christmas '72 terror bombings of Hanoi and Haiphong and Watergate — it became impossible not to deal in my work — once I had the stylistic tools — with what was going on around me: Guernica, multiplied a million times.
Picasso, in his painting, reacted to Guernica by sharpening the emotional impact of his figures with expressionist distortion. My approach has been to orchestrate data, so people will — at best — both understand and be outraged. Will the pictures still function as a sensual and formal experience? Will the lettering also function as rhythmic percussion patterns? Can the pattern of facts become poetry? That is for the spectator to judge.
Obviously, most artworks (neo-Dada, Pop-art, conceptual art) use data that are "non-committal", "unimportant" per se. Will facts about economic exploitation or torture techniques destroy the balance and make the works "propaganda"? If so, are not Goya's war-etchings "propaganda" too?
Radical Chic
Same have criticized me for trying to sell "radical art" to the rich people and institutions of the West. By the same token Costa-Gravas should not have made State of Siege as a commercial feature film, reaching a very large public. Or Peter Weiss should be reproached for taking in royalties from plays on Vietnam and Trotsky.
The visual artist in the West can only reach out to a wider audience via the galleries. Only after becoming known through gallery shows will he appear in museums, print editions and art books.
Ideally, I would like to be able to sell enough expensive originals to pay for the manufacture of mass multiples, unsigned very large editions, available at the price of a record or a book and create an alternate distribution system. A first attempt in this direction is my reproduction of (a section of the drawing for) World Map, on newsprint, 80 x 100 cm, folded and inserted into the May '72 issue of a magazine, Liberated Guardian (circulation: 7000 copies, price: 25 cents).
Öyvind Fahlström
New York
May, 1973
—in "Historical Painting." Flash Art (Milan) Nr. 43, December 1973 / January 1974, 14.